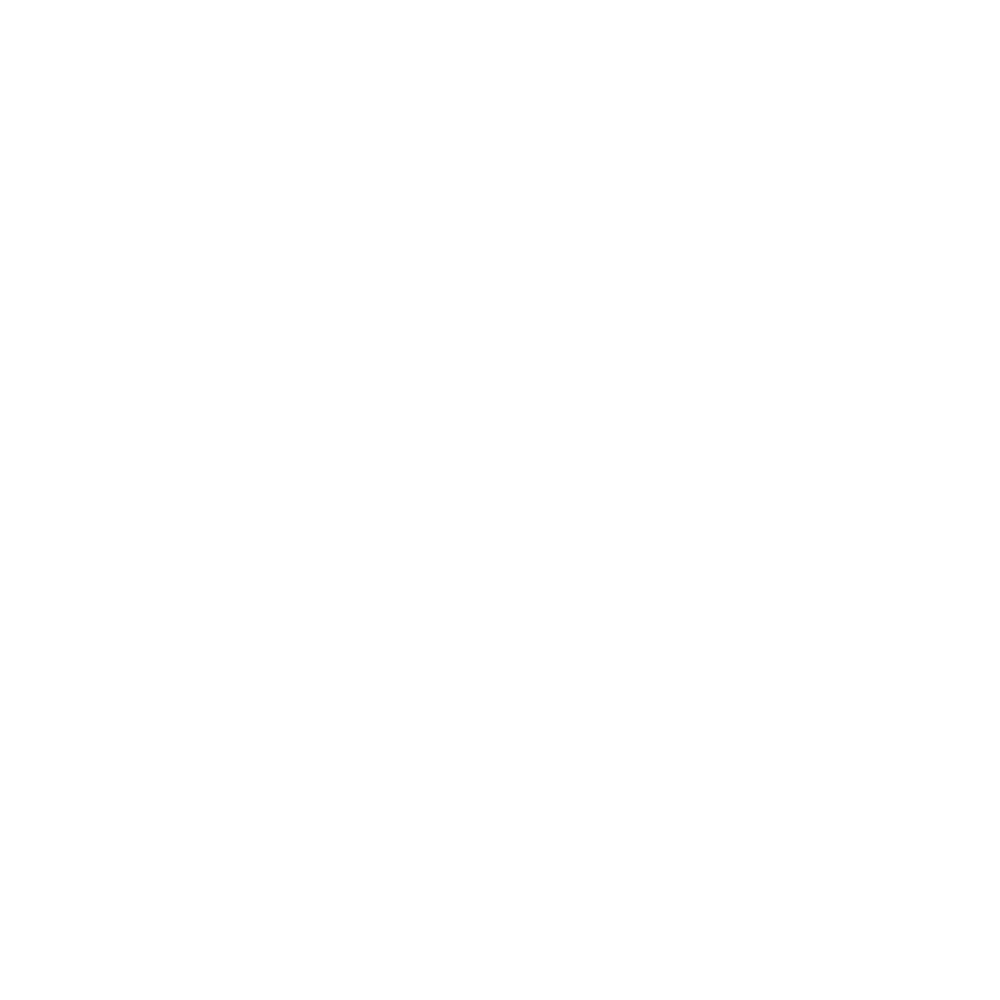Adolfo Mesquita Nunes
“Penso o futuro com uma mistura de expectativa e prudência”
Advogado há mais de 20 anos, “pioneiro em Portugal na análise dos desafios, riscos e dilemas legais que a Inteligência Artificial levanta, tem-se destacado no trabalho com dezenas de empresas”. Autor de ensaios e diversos artigos académicos sobre os problemas jurídicos criados pela Inteligência Artificial (IA), no outono passado publicou Algoritmocracia – Como a IA está a transformar as nossas democracias (Dom Quixote), reafirmando que não escreveu este livro “contra a tecnologia nem em nome da nostalgia”, antes “como um convite à lucidez”
Mais um ano. Mais desafios. Coragem para viver, defender, resistir, persistir… E manter a tradição de escolher um título para cada pessoa que aprova a prerrogativa de dialogar connosco. De modo intuitivo, para Adolfo Mesquita Nunes elegemos Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte-Sponville, destacando três virtudes: Coragem, Justiça, Tolerância.
“Coragem não é uma virtude, mas uma qualidade comum aos loucos e aos grandes homens” (Voltaire). E Comte-Sponville, diz: “Como traço de carácter, a coragem é sobretudo uma fraca sensibilidade ao medo.” De que modo se refletiu a coragem ao longo de 25 anos da sua vida política?
A coragem apareceu de forma irregular ao longo desses anos. Houve momentos em que disse, votei ou decidi de maneira incómoda no meu próprio campo político, aceitando o desconforto e o custo que isso traz. Houve outros em que não tive essa coragem. A vida política, como a vida em geral, não é feita de virtudes constantes, mas de instantes em que estamos à altura do que exigimos de nós e de muitos outros em que não estamos.
Foi deputado à Assembleia da República e vice-presidente do CDS-PP, do qual se desfiliou “em nome da liberdade”, em 2021. Numa entrevista, disse: “Na política temos a pretensão de que sabemos o que é que é melhor para as pessoas.” Qual é o pior defeito de um político?
É a convicção de que sabemos melhor do que os outros como devem viver. Começa como uma certeza bem-intencionada e acaba na recusa em aceitar que o mundo é maior do que a nossa experiência. A partir daí, os outros deixam de ser pessoas e passam a ser obstáculos, o adversário transforma-se num erro moral e a política reduz-se a uma disputa em que só parece haver vencedores se alguém for diminuído.
No capítulo da Justiça, o autor refere que “cabe aqui citar Pascal: ‘Existem apenas duas espécies de homens: os justos que se julgam pecadores e os pecadores que se julgam justos.’ Mas nunca sabemos a qual das duas categorias pertencemos; se soubéssemos, estaríamos já na outra!”…
Expõe um vício profundamente humano: a necessidade de nos vermos do lado certo da história. Quando nos achamos inevitavelmente justos, não ficamos melhores; ficamos menos curiosos, menos capazes de suportar a ambiguidade dos outros e a nossa própria. A justiça, nesse momento, deixa de ser uma procura e passa a ser uma identidade. E quando isso acontece, a sociedade empobrece, porque já não há espaço para a dúvida, para o erro, nem para a convivência entre diferenças, apenas para a acusação mútua e o permanente julgamento moral dos outros.
A propósito da Tolerância, Voltaire disse: “Devemos tolerar-nos mutuamente, porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à variação do erro.” À luz do que atualmente vivemos que sentido têm estas palavras para si?
Essas palavras lembram-me a tentação de alguns se colocarem acima dos outros, como se tivessem sido investidos de uma autoridade moral superior, quase divina. A tolerância nasce do reconhecimento de que ninguém está a salvo do erro, nem eu, nem quem discorda de mim. Quando alguém se arroga o papel de juiz absoluto, a igualdade humana rompe-se e a sociedade torna-se mais estreita, mais agressiva, menos livre. Tolerar não é relativizar tudo; é recusar a ideia de que uns são moralmente eleitos e outros apenas tolerados.
Muitas vezes, diz: “O mundo é horrível, mas foi sempre mais horrível do que é hoje.” Porém, o mundo continua a ser horrível…
O mundo continua a ser horrível em muitos aspetos, claro. Mas isso não apaga um facto incómodo: em quase todos os indicadores que importam para a vida concreta das pessoas, vivemos hoje melhor do que em qualquer outro momento da história. Há menos pobreza extrema, menos fome, menos mortalidade infantil, mais acesso à educação, à saúde, à informação. Esses avanços foram reais, em grande medida fruto da globalização, da ciência e da cooperação, mas são frequentemente ignorados porque não cabem bem na narrativa do colapso permanente.
O que podemos fazer para que o mundo seja mais aceitável?
Reconhecer os progressos não nos torna complacentes, torna-nos responsáveis. Mostra-nos que o mundo pode ser mudado e que já o foi, muitas vezes, sem milagres nem heróis, mas com instituições, comércio, conhecimento, tempo e liberdade. Tornar o mundo mais aceitável passa por proteger esse espaço de liberdade que permite errar, corrigir, criar e cooperar, cuidar do que funciona e melhorar o que falha, sem ceder à tentação de destruir tudo em nome de certezas.
Pensa o futuro com optimismo, expectativa, esperança?
Penso o futuro com uma mistura de expectativa e prudência. Vivemos uma aceleração inédita, em que a IA e as escolhas que fazemos hoje vão condicionar profundamente o modo como viveremos, trabalharemos e decidiremos amanhã. Há razões para esperança, porque a história mostra uma enorme capacidade de adaptação e progresso; mas há também motivos para inquietação, porque nunca tivemos tanto poder concentrado em decisões tão rápidas e de que sabemos tão pouco. O otimismo, hoje, só faz sentido se vier acompanhado de responsabilidade, limites e sentido de proporção.
Ao folhear as páginas de Algoritmocracia – Como a IA está a transformar as nossas democracias somos interpelados pela dedicatória: “À minha Avó Emiliana e ao meu Avô José, que todos os dias me fazem acreditar na vida eterna.” Eles são os pilares? A melhor fortuna da sua vida?
Absolutamente. Devo-lhes quase tudo.
Que virtude atribui a cada um deles?
A capacidade de nunca perder de vista que há sempre um outro. Alguém com menos recursos, com dificuldades que não conhecemos, com limites que não enfrentámos, com uma vida que seguiu caminhos diferentes dos nossos. Essa consciência não resolve tudo, mas impede que confundamos a nossa experiência com regra e a nossa posição com mérito absoluto.
Se por intervenção divina tivesse a oportunidade de repetir um dos momentos de felicidade da infância, qual seria?
As férias na Serra da Estrela. Éramos muitos e estávamos todos.
Frequentou a escola na Covilhã… Quando revisita a cidade e as memórias antigas, sente nostalgia desse lugar que embalou a criança que ali cresceu?
Exerço funções autárquicas na Covilhã. As memórias existem, claro, mas convivem com a cidade real, com as suas rotinas, os seus problemas e as pessoas de hoje. A distância necessária para a nostalgia simplesmente não acontece.
No lançamento do seu livro, em Lisboa, Sérgio Sousa Pinto, político e comentador, disse: “É preciso fazer algo que sirva para educar as pessoas sobre o funcionamento do algoritmo. Um número mais vasto de pessoas tem de se preparar para defender o pensamento crítico” (Dom Quixote, outubro 2025). Também Arlindo Oliveira, professor catedrático do IST, afirmou: “Temos de ensinar de maneira que o pensamento crítico não desapareça, pelo contrário, que se fortaleça nesta situação onde é tão fácil obter informação e tão difícil ter a certeza de que é correta” (Tempo Livre, março/abril 2025). Como professor na Nova SBE e NOVA School of Law, que desafios enfrenta na defesa do pensamento crítico?
O maior desafio é combater a ilusão de que pensar se tornou dispensável. Os alunos chegam com acesso imediato a respostas, textos e argumentos bem construídos, muitas vezes produzidos por sistemas que simulam entendimento sem o terem. O trabalho passou a ser menos transmitir informação e mais insistir na pergunta incómoda: porquê, a partir de onde, com que pressupostos, a favor de quem. Isso obriga a ler devagar, a sustentar uma posição sem atalhos, a aceitar a frustração de não ter logo uma resposta certa. Defender o pensamento crítico hoje é, em grande medida, ensinar a desconfiar da facilidade, a resistir ao conforto intelectual e a perceber que delegar o pensamento tem sempre um custo, mesmo quando parece eficiente.
No seu livro, diz: “No passado, o espaço público – jornais, televisão, rádio – funcionavam como um filtro. […] “Uma notícia verdadeira demora, em média, seis vezes mais tempo a chegar a mil e quinhentas pessoas do que uma notícia falsa. […] a notícia surpreendente é a que nos cativa a atenção. Partilhamo-la antes de pensar, os algoritmos, atentos a cada clique, exploram essa tendência humana.” O impacto dos algoritmos na vida das pessoas é alarmante. Na sociedade, em geral, temos a ideia do que está a acontecer?
Não totalmente. Sentimos que algo mudou na forma como nos informamos, discutimos, e nos irritamos uns com os outros, mas subestimamos a profundidade dessa mudança. Os algoritmos não se limitam a amplificar o que já existe; reorganizam silenciosamente o espaço público, premiando o que choca, simplifica e divide, tornando mais difícil aquilo que exige tempo, contexto e dúvida.
O mais inquietante é que este processo não resulta de uma conspiração, mas da soma de incentivos aparentemente racionais: captar atenção, manter-nos ligados, reduzir fricções. O efeito agregado, porém, é corrosivo. Quando a mentira circula mais depressa do que a verdade e a indignação vale mais do que a compreensão, a sociedade começa a perder a capacidade de se pensar a si própria com calma. E isso acontece muitas vezes sem que nos apercebamos, porque os algoritmos não se impõem: adaptam-se a nós, explorando fragilidades muito humanas.
Insiste no livro que “temos de reclamar o poder de poder personalizar os algoritmos que todos os dias condicionam a informação que nos é servida”. Defende a regulação do algoritmo, considera possível num futuro próximo?
Defendo, mas sem ilusões fáceis. A regulação dos algoritmos é possível e necessária, mas será sempre imperfeita e gradual. Estamos a tentar impor regras a sistemas que evoluem mais depressa do que o direito e que operam em ecossistemas globais, enquanto as instituições continuam essencialmente nacionais ou, no melhor dos casos, regionais.
Ainda assim, um futuro próximo com mais regulação é plausível. Não para controlar tudo, mas para impor limites mínimos: transparência sobre critérios, responsabilidade por impactos sistémicos, deveres reforçados quando estão em causa processos democráticos, informação ou direitos fundamentais. A alternativa a tentar regular não é a neutralidade, é aceitar que decisões com enorme impacto coletivo fiquem entregues apenas a lógicas privadas de eficiência e atenção. Regular não resolve tudo, mas é a única forma de reintroduzir política, escolha e responsabilidade num espaço que hoje funciona demasiado no automático.
Escreveu que “na Suíça, por exemplo, já se debate a inclusão da liberdade ou integridade cognitiva entre os direitos protegidos pela Constituição. […] Significa assegurar que cada pessoa mantém a possibilidade de pensar antes de reagir, de decidir sem ser empurrada subtilmente para uma opção que lhe foi previamente sugerida.” O que é necessário para que em Portugal se promova este debate?
Antes de mais, reconhecer que o problema é real e já afeta a forma como as pessoas pensam, escolhem e participam na vida pública. Em Portugal, o debate tende a ficar preso ao plano técnico ou académico, quando a questão da liberdade ou integridade cognitiva é, na verdade, um tema de autonomia pessoal e de qualidade democrática.
Depois, é essencial alargar essa discussão para lá dos especialistas e assumir coragem política para antecipar o problema. Promover este debate implica aceitar que há limites legítimos à persuasão digital e perguntar, de forma serena mas exigente, que tipo de liberdade queremos proteger num espaço público cada vez mais mediado por algoritmos.
“A viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores” (Mia Couto, O Outro Pé da Sereia)…
Lembra que a verdadeira deslocação raramente é geográfica. Podemos mudar de país e continuar exatamente no mesmo lugar interior, presos às mesmas certezas e aos mesmos medos. Viajar, no sentido mais exigente, é aceitar esse ligeiro descentramento. Nem sempre é confortável, mas é quase sempre aí que alguma coisa se move.
Foi secretário de Estado do Turismo (2013-2015), o que é para si uma viagem de sonho?
Uma viagem de sonho é aquela em que não espero nada em troca. Não me promete transformação, nem descanso exemplar, nem uma versão melhor de mim. É apenas estar noutro lugar sem a obrigação de o justificar, de o aproveitar bem ou de o contar depois. Um tempo em que o mundo não me pede nada e eu não lhe peço sentido.
Teresa Joel